Revista online sobre Ciências Humanas (com ênfase em história, filosofia, sociologia, geografia e antropologia), Ciências Sociais Aplicadas (administração, arquitetura, comunicação, direito, economia, planejamento urbano e regional/demográfico, serviço social, ciências contábeis, turismo) e Educação. Periodicidade: Semestral a partir de 2013 (edições em [v.1] julho e [v.2] dezembro). Indexada pelo IBICT, LATINDEX e MIGUILIM.
Publicação brasileira técnico-científica on-line independente, no ar desde sexta-feira 13 de Agosto de 2010.
Não possui fins lucrativos, seu objetivo é disseminar o conhecimento com qualidade acadêmica e rigor científico, mas linguagem acessível.
Periodicidade: Semestral (edições em julho e dezembro) a partir do inicio do ano de 2013.
Mensal entre 13 de agosto de 2010 e 31 de dezembro de 2012.
sexta-feira, 31 de julho de 2015
Editorial Volume 2015-1.
segunda-feira, 20 de julho de 2015
O mecenato da Igreja Católica no século XVI: reflexões instigadas pelo filme “Agonia e Êxtase”.
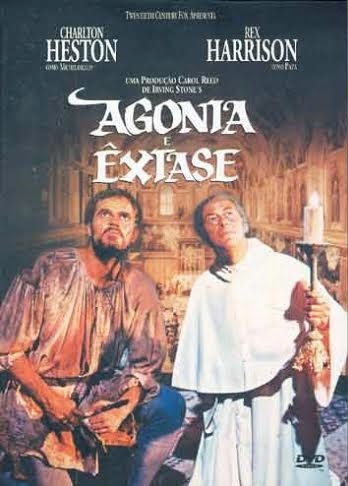 Pessoas ligadas
especialmente à burguesia utilizavam este artifício, mas alguns nobres e a
Igreja Católica, principalmente representada pela figura do Papa, estiveram
entre os financiadores da produção intelectual e artística renascentista no
século XVI.
Pessoas ligadas
especialmente à burguesia utilizavam este artifício, mas alguns nobres e a
Igreja Católica, principalmente representada pela figura do Papa, estiveram
entre os financiadores da produção intelectual e artística renascentista no
século XVI. Os Papas utilizaram os serviços dos mais proeminentes artistas de sua época.
 Paradoxalmente,
pelo prisma do artista, a busca de uma precisão fotográfica nas pinturas,
trazia os elementos bíblicos para a realidade do dia-a-dia.
Paradoxalmente,
pelo prisma do artista, a busca de uma precisão fotográfica nas pinturas,
trazia os elementos bíblicos para a realidade do dia-a-dia. A arte dignificava ainda mais os conceitos humanistas, ao mesmo tempo em que incomodavam os mais radicais simpatizantes da iconoclastia, colocando o homem no centro da discussão.
A pintura se tornou um poderoso elemento de propaganda, simbolizando o que a Igreja Católica poderia oferecer na outra vida, acessível àqueles que seguissem os preceitos católicos.
Contraditoriamente, transformou-se também em elemento de convencimento da reforma protestante, já que poderia ser argumentado que o oferecido na outra vida representava uma perfeição que era deste mundo, só não estava ao alcance de todos.
domingo, 19 de julho de 2015
Esquerda e revolução socialista nas Américas (1950-1970).
 Este episódio
deu origem, na década de 1970, a um movimento de esquerda no México orientado
pelo pensamento de Gramsci, principalmente entre intelectuais que organizaram
simpósios e palestras com a participação de pesquisadores vindos da Europa e
também de gramscianos latino-americanos.
Este episódio
deu origem, na década de 1970, a um movimento de esquerda no México orientado
pelo pensamento de Gramsci, principalmente entre intelectuais que organizaram
simpósios e palestras com a participação de pesquisadores vindos da Europa e
também de gramscianos latino-americanos. O que trouxe
rebeldias dentro do exército e um setor militar voltado para o povo e o
sentimento anti-imperialista, com cunho progressista de esquerda.
O que trouxe
rebeldias dentro do exército e um setor militar voltado para o povo e o
sentimento anti-imperialista, com cunho progressista de esquerda. segunda-feira, 13 de julho de 2015
Impressionismo: principais características e representantes.

 O nome do
movimento foi derivado da obra “Impressão, nascer do sol”, datada em 1872, de
autoria de Claude Monet, um artista que iria simbolizar o impressionismo, junto
com outros; como Degas, Manet, Renoir e Pissaro.
O nome do
movimento foi derivado da obra “Impressão, nascer do sol”, datada em 1872, de
autoria de Claude Monet, um artista que iria simbolizar o impressionismo, junto
com outros; como Degas, Manet, Renoir e Pissaro.Focando o fazer arte em significados selecionados, imaginados, modelados e compostos pelo objeto percebido de modo direto.
 Em outras
palavras, o método da nova arte se fundamentava na realidade do impreciso e
atmosférico da natureza, que possuía uma objetividade e uma precisão refinada
própria.
Em outras
palavras, o método da nova arte se fundamentava na realidade do impreciso e
atmosférico da natureza, que possuía uma objetividade e uma precisão refinada
própria. No século XIX, a
verdade espelhava aquilo que é; contudo, o impressionismo mostrou que o
problema é encontrar a essência do que as coisas são, uma vez que tudo depende
do olhar de quem observa.
No século XIX, a
verdade espelhava aquilo que é; contudo, o impressionismo mostrou que o
problema é encontrar a essência do que as coisas são, uma vez que tudo depende
do olhar de quem observa.A cor dos impressionistas era mais exata e as sombras eram coloridas.
A cor é um signo da luz do sol e também da sombra.
Antes as sombras escuras e pretas eram signo de volume.
Os impressionistas buscavam qualidades normalmente não observadas, qualidades de cores e luz que se referiam a um ponto no espaço, mas não distinguiam um objeto específico.
domingo, 12 de julho de 2015
O uso da tecnologia na guerra.
 A aviação é um
dos campos que reúne grande número destes desenvolvimentos, de onde saíram os
motores a pistão para o jato, os pequenos biplanos para os grandes
bombardeiros, ou as aeronaves limitadas em autonomia para as capazes de cruzar
vários quilômetros sem reabastecimento.
A aviação é um
dos campos que reúne grande número destes desenvolvimentos, de onde saíram os
motores a pistão para o jato, os pequenos biplanos para os grandes
bombardeiros, ou as aeronaves limitadas em autonomia para as capazes de cruzar
vários quilômetros sem reabastecimento.  A tecnologia que
possuímos de transmissão via satélites, análises meteorológicas através de
satélites, bem como todo o avanço humano no espaço, só foi possível devido ao
desenvolvimento das bombas voadoras V1 e V2, que iniciaram o desenvolvimento
pós-guerra dos programas espaciais ao redor do mundo.
A tecnologia que
possuímos de transmissão via satélites, análises meteorológicas através de
satélites, bem como todo o avanço humano no espaço, só foi possível devido ao
desenvolvimento das bombas voadoras V1 e V2, que iniciaram o desenvolvimento
pós-guerra dos programas espaciais ao redor do mundo. 




